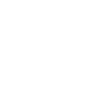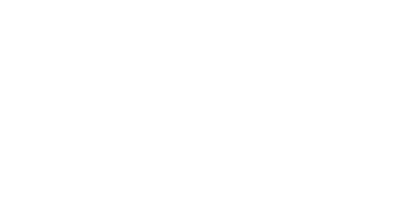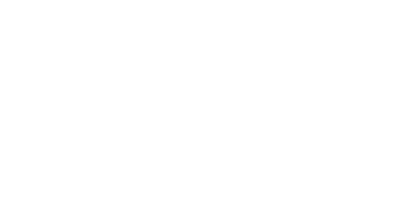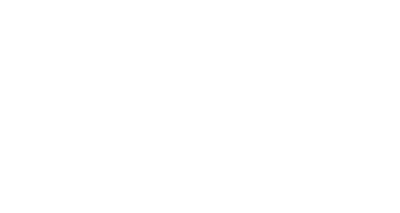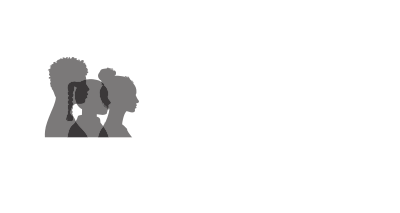Entrevista com Carlito Carvalhosa
Carlito Carvalhosa participou do programa Artista Convidado em junho de 2004, no ateliê da Fundação Iberê Camargo, momento em que concedeu esta entrevista. Pintor, escultor e gravador, o artista foi integrante do Grupo Casa 7, na década de 80, junto de Rodrigo Andrade, Fábio Miguez, Nuno Ramos e Paulo Monteiro. No seu currículo de exposições, destacam-se as realizadas em espaços como Centro Cultural Banco do Brasil, Oca, Paço Imperial, Mac Niterói, Bienal de São Paulo, Bienal de Havana e Bienal do Mercosul.
É importante que os artistas venham, conheçam a Fundação, o que faz com que a Fundação fique ainda como um lugar de produção de arte, como era quando o Iberê era vivo.
Como foi a experiência no grupo Casa 7?
O que eu acho que foi interessante no Casa 7 é que a gente simplesmente se juntou para trabalhar, para dividir o espaço. Porque nós achávamos que precisávamos ter uma relação diária com arte, que precisávamos alugar um espaço. O que houve ali de especial foram duas coisas: tínhamos uma relação de amizade muito forte e de muita concorrência, uma relação muito agressiva, uma intimidade grande a ponto de você fazer um trabalho e as pessoas começarem a comentar – está bom, está ruim, uma porcaria. E, a outra coisa, foram os painéis em esmalte sintético sobre papel, que fizeram com que a relação que a gente tinha com a pintura acontecesse de uma maneira muito rápida, porque permitiam fazer muitos trabalhos por dia e com uma atitude mais solta, porque havia uma quantidade de material muito grande.
Então, a coisa essencial é que havia ali uma vontade forte de ser artista, de cinco pessoas que tinham uma relação muito intensa, de concorrência, de abertura para ouvir críticas. Nesse sentido, foi uma experiência muito rica. Mas era um período de formação. Eu acho que apesar de a gente evidentemente ter laços criativos e de amizade, o trabalho mesmo vai acontecendo depois – no Casa 7 nunca houve uma idéia de fazer um grupo no sentido de movimento artístico. Foi uma ótima experiência. Eu acho também que o grupo livra daquela coisa do intimismo no trabalho, de você ficar falando consigo mesmo e te põe numa situação de confronto, que eu acho boa, principalmente quando você está começando e pode enveredar por um lado de ficar ensimesmado.
Ontem, na palestra, você falou sobre a criação da pele na escultura. O Nuno Ramos tem uma frase – criar uma pele para tudo. Essa preocupação surgiu ainda lá no Casa 7 ou foi depois?
Acho que isso é um ponto que qualquer trabalho com escultura tem, o trabalho com a superfície. Pele é um termo só. Acho que, se você usa a palavra pele, está querendo dizer alguma coisa mais orgânica. Teve uma hora na palestra em que eu estava falando de peças feitas com os dedos. Aí é pele mesmo, tem uma coisa simbólica de vir, de onde nasce mesmo aquilo, que é o gesto, é a mão. Existe uma simbologia ligada ao corpo. Esse é um trabalho mais antigo, de 1991. No caso das esculturas, o que existe é que a superfície muda de qualidade, ela tem partes que são constituídas de uma coisa mais orgânica e tem partes mais lisas. Essa relação de superfície, em que se delimita o volume com o espaço, muitas vezes está contra o volume, ela está muito leve com um volume bem pesado. Talvez nesse sentido seja até o oposto de uma idéia de pele. O que tem sempre e que me interessa é que a superfície não fique confortável naquele volume, que haja um pouco desta questão. Eu acho que o termo, pele, em si, funciona mais naquelas peças mais antigas, década de 1990.
Você continua se interessando por essa relação com o espaço, dá para ver pelo tamanho das esculturas, de não criar um trabalho confortável para aquele espaço.
Eu acho que todo o trabalho de arte tem que criar o seu espaço, ele tem que estar em confronto com o entorno dele. Eu acho que isso é meio básico. Temos um espaço urbano muito fragmentado, não há mais aquela idéia burguesa de uma cidade organizada. Então, um objeto de arte dentro desse espaço, que é fragmentado, precisa criar o seu próprio espaço, precisa criar a sua própria condição. É meio sem sentido colocá-lo no meio de uma praça ou tentar criar este tipo de estrutura organizada. Parece que ele precisa agir de uma maneira mais incisiva. O trabalho que você conhece, da Bienal do Mercosul, justamente vivia disso, ele era contra aquele espaço. Ele usava uma referência das curvas do prédio, mas de uma maneira que não era elogio.
E o gesso, o material?
Essa é a idéia para o material também. O gesso é o material errado, ninguém usa para fazer escultura. Ao mesmo tempo, é muito ligado com a história da arte, mas sempre como um material intermediário, nunca como o objeto final. E a escala errada também, grande demais. A gente tem visto lá no Museu Nacional de Belas Artes esculturas em gesso, isso era muito comum no século passado, se faziam moldes de esculturas importantes grego-romanas, que eram espalhados pelos museus de belas artes do mundo todo. Eu acho que o gesso é um material de construção meio comum e, ao mesmo tempo, ele ilude muito, parece pedra, parece uma outra coisa, um monolito. Eu gosto dele, mas é muito ruim de trabalhar, isso é uma desvantagem grande. Ele faz muita sujeira, num nível muito radical, principalmente pó, se fosse sujeira só, não seria tão sério, mas ele faz muito pó. Então, nem sempre se pode usar, porque, no caso da Bienal, eu entrei antes, eu atrapalhei a montagem das esculturas, atrasou uns dois dias, foi um problema, porque é uma poeira sem fim.
E o branco. Nas suas pinturas podemos ver cor, mas nas esculturas você mantém o branco, que é a cor do gesso.
É a cor do material. No caso das peças sanitárias, eu queria a aparência mais normal e neutra, que é a aparência que você tem dentro do banheiro – as peças sanitárias geralmente são brancas. Eu queria esta espécie de vínculo com algo íntimo, conhecido. Se eu usasse as outras cores pastel, iria ficar meio kitsch talvez, seria uma outra coisa. Eu acho que tem dois momentos, a pessoa vê e fala assim: – eu conheço isso, bom mas que coisa esquisita… Então você tem uma intimidade com o gesso e uma espécie de deslocamento daquilo que é íntimo, colocado de uma outra maneira. Isso me interessa.
Não te interessa a cor na escultura?
Interessa tudo. A questão é que precisa funcionar, você precisa entender como que aquilo está abrindo para você. Esse trabalho de espelho agora tem cor, porque foi andando bem. Ele começou sem cor também, mas eu sempre tento abrir para vários lados e vejo como a coisa anda. Mas eu acho que sim, que você tem que botar o máximo que você consegue ali. Arte, pelo menos para mim, tem muito isso: você abre e depois você dá umas fechadas, entende o negócio, cerca o meridiano. É um processo de criar instrumentos, criar coisas que te levam para lugares que você não conheça.
E a fragilidade, como você trabalha com ela? Porque ela é evidente em tudo, a fragilidade no tamanho, a fragilidade no material…
É boa a pergunta, eu não tinha pensado nisso. Mas eu acho que tem uma atração por um risco da obra se desfazer, quebrar. Acho que isso contribui com uma espécie de instabilidade. Quer dizer, você não tem aquela sensação de que aquilo é um monolito. Aquilo grande ao mesmo tempo é frágil. Isso ajuda na sensação de que aquilo pode se transformar em outra coisa. Eu também acho que tem uma vontade meio inconsciente de criar objetos que nunca estejam muito à vontade. Então, nesse sentido ser frágil contribui. É verdade. As peças são grandes, então fica esse despropósito, muito grande, muito frágil. Chegar no limite do objeto, ver até onde vai, é uma espécie vontade mesmo. Tento pensar em alguma coisa que eu já fiz que seja mais sólido, mas não tem muita coisa não, porcelana, gesso, asfalto, tudo meio…
Tem também essa relação do público com a fragilidade, com o medo talvez de que aquilo possa cair… Por exemplo, na Bienal do Mercosul, tinha a fenda em que a pessoa podia entrar dentro da obra, mas algumas pessoas olhavam, outras olhavam e saiam, tinha gente que passava rapidinho…
O caso da fenda é um pouco esse. Ela tinha uma largura suficiente que você conseguia entrar, mas com algum esforço, tinha que entrar meio de lado. Exigia uma vontade de entrar, não era uma coisa que você podia entrar sem perceber que estava dentro. Dessa forma, provocava isso que você está falando, uma certa vertigem, uma certa situação de que você acaba sujando a roupa. Havia ali algum incômodo na passagem. Isso foi uma coisa que eu tomei cuidado no tamanho da abertura, primeiro para não perder esse contato das duas metades e não virar dois pedaços, e depois para que criasse uma luz que atravessa. É isso mesmo.
A luz é bem importante no seu trabalho. Têm os buracos nos trabalhos mais recentes e têm também as fendas. A luz está sempre ali, desenhando junto.
A luz desfaz. O que eu acho que tem nas peças brancas é uma vontade de que a luz desfaça a peça, principalmente nas peças de porcelana, mas também no gesso. Com bastante luz, você começa a não ver direito a peça, isso eu acho interessante. Ela cria, de novo, uma fragilidade, uma condição misteriosa, uma coisa muito grande que some. As peças de porcelana, quando colocadas no sol, são difíceis de olhar. É muito radiante, é muita luz. Então, quando vai por esse caminho, é legal levar até um ponto em que, com bastante luz, você começa a ter uma dificuldade.
E o desenho, como foi o seu processo de trabalho? Você começou com o desenho ou com as três coisas?
Eu tenho milhares de cadernos de desenhos, o que não falta são cadernos de desenho. Mas não são coisas que se mostre. Eu sempre desenhei, desde criança desenhava quadrinhos. A experiência com arte começou com um pouco de gravura, mas logo depois foi para a pintura. Todo o começo foi pintura. Então, eu comecei a achar que, na verdade, essa colocação, eu sou pintor, a morte da pintura, são questões superadas. Ou seja, a solução para esta questão é que a pintura é um suporte, como a instalação é um suporte. Como todos os suportes de certa maneira foram esgotados, mas têm seu vocabulário bem definido. Então, você pode falar, a pintura está esgotada, assim como a escultura, a instalação, ou não. Eu acho que dá para ser pintor, assim como dá para fazer gravura, se você não se colocar como um gravurista. É claro que tem pintores, que só querem fazer pinturas, mas aí é o negócio deles. Eu tinha a vontade de andar para vários lados. As primeiras coisas que eu fiz de escultura vinham muito da questão de superfície, você falou da casca, pele, da superfície, ainda guarda essa lembrança que vem da pintura, essa sensibilidade da questão da relação da superfície com o volume, isso vem da pintura. Eu fiquei um tempo sem fazer pintura, esse trabalho com espelho é o trabalho que eu fiquei feliz de voltar a fazer isso, de trabalhar com essas questões. Eu acho muito legal, gosto, mas ao mesmo tempo não estava funcionando. Eu fiz algumas coisas, mas o negócio não ia, mas agora está andando de novo.
O espelho também traz a questão da fragilidade e a dificuldade de olhar.
É a mesma coisa, no fundo é isso, você se acha naquele lugar. O espelho é um não-lugar, tudo se move ali, tem mil conotações simbólicas, que tornam a coisa quase cafona. Então, é bacana, me dá vontade.
Como é a questão do ateliê para ti?
Eu sempre quis ter um ateliê. Eu vou todo o dia para o meu ateliê. Eu preciso do trabalho em ateliê. Eu nunca consegui fazer um trabalho que fosse um projeto, que você projeta e manda fazer. Então, para mim é importante ter um ateliê que funcione, em que você vai vendo, vai fazendo e vai pensando em outra coisa. Eu gosto de ateliê grande, porque as coisas ficam lá. Uma coisa chata de quebrar as peças é que você não vê elas de novo, então, é só uma lembrança.
Você trabalha com design também?
Essencialmente o que eu gosto de fazer são livros de arte, eu faço alguns por ano. Gosto muito. No ano passado, eu fiz um do Fajardo, fiz o do Iberê. Por conta do Iberê, eu vim para cá, eu vi todos os quadros, que foi maravilhoso. É muito bom, gosto de fazer isso. Eu acho que fazer livros sobre artistas te põe para pensar no trabalho das pessoas e o ateliê tem algo de isolamento grande. Então, é algo que eu tenho prazer em fazer.
Como é estar aqui agora fazendo gravura? Você chegou a ter alguma relação com Iberê?
É ótimo. Eu conheci o Iberê, conversei com ele, mas ele não era próximo. Eu encontrei com ele em algumas exposições, tive algumas conversas, mas não era uma pessoa que eu fosse amigo ou próximo. É muito bom estar aqui. Acho que a escolha da Fundação em manter o lugar vivo é muito acertada. É importante que os artistas venham, conheçam a Fundação, o que faz com que a Fundação fique ainda como um lugar de produção de arte, como era quando o Iberê era vivo. E, para mim, está sendo bom, primeiro porque eu fiz gravura muitos anos e, depois, porque quando você chega num ateliê que funciona, que está organizado e tal, o trabalho anda. E isso é muito bom. É bom você estar concentrado e trabalhando.
Para ver as obras do artista na coleção, clique aqui.