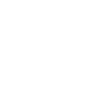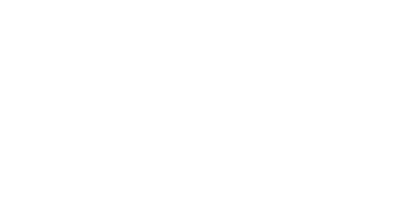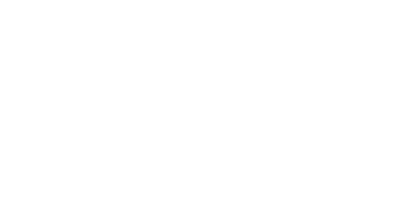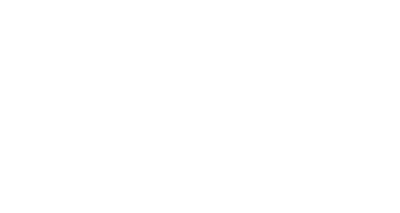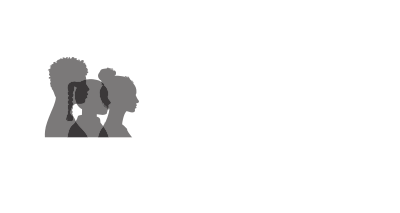Entrevista com Carlos Vergara

Carlos Vergara é um dos artistas contemporâneos mais atuantes no cenário das artes plásticas do Brasil. Já trabalhou com jóias, cerâmica, gravura, instalações e painéis, sempre de forma provocativa e muito peculiar. Seu universo, no entanto, é o da pintura, desse tipo de produção que, por si só, vem carregada por uma tradição de séculos.
Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Iberê é que ele tinha muito rigor em relação ao critério de escolha. […] Por isso, durante os anos em que trabalhei com ele, eu desenhava muito, e ele era muito rigoroso mesmo.
Nascido em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, Carlos Vergara teve toda sua formação no Rio de Janeiro, onde passou a viver ainda quando criança. Lá, foi aluno de Iberê Camargo, de quem diz ter aprendido a olhar as coisas com extremo rigor.
Em 2003, Vergara esteve em Porto Alegre para acompanhar a inauguração de seu grande painel Todas as Horas, projetado e confeccionado junto ao Aeroporto Salgado Filho, e que mede mais de 30 metros de comprimento. Ele foi um dos três artistas escolhidos para criar obras para o local. Os outros dois foram Regina Silveira e Mauro Fuke. E foi diante de Todas as Horas – que muitos transeuntes chamam carinhosamente de Zepelim, devido à forma elíptica – que o artista concedeu essa entrevista ao site da Fundação Iberê Camargo.
Tu já tens uma certa prática em painéis. Fizeste, por exemplo, painéis para a Varig, em vários aeroportos no exterior. Como tu percebes a interação do trabalho com o ambiente? Ele precisa ter, necessariamente, uma ligação com o ambiente?
Eu acho que o trabalho que opera com a arquitetura deve, sim, reconhecer o ambiente. Você não trabalharia com papel maché, por exemplo, num lugar onde chove. Então, começa pela escolha do material. Em certas situações, você tem chances de fazer um painel que pode ser um discurso individual solto no ar. Mas há lugares em que isso não é possível. Eu, no entanto, acredito que esse tipo de trabalho deve levar em consideração a arquitetura e a proposta do espaço. Pelo menos eu me comporto assim. No caso do Aeroporto Salgado Filho, temos um componente forte, que é o fato de esse ser um lugar muito nervoso: aqui as pessoas ou estão saindo, ou chegando, ou esperando para ir a outros lugares. Pra se ter uma idéia de como é complicado executar painéis em aeroporto, há um tempo atrás eu fiz um painel para o terminal da Varig em Nova York, pra ser colocado no fundo do check in, mas não no alto, atrás das pessoas mesmo. Era um trabalho cheio de sutilezas, com areias coloridas, muito bonito… E ninguém via o painel! Ninguém conseguia ver o trabalho por causa daquele frisson de entregar bilhete e tal. Então, penso que, para uma situação como essa, para aeroporto, o trabalho tem que ter um estalido muito forte; ele deve ter uma capacidade de apreensão.
Mas ele deve ser integrado à função do espaço?
Não. Acho que o importante é criar um fato estético, ou seja, uma aglomeração de intervenções visuais que justifique a sua própria existência. Pode ser um traço, uma jogada de tinta na parede, qualquer coisa, desde que composto de tal forma que ele crie a sua própria existência, justifique o seu porquê. Do contrário, ele é que nem música de elevador, papel de parede: é uma coisa que não fala. E eu acho que tem de falar. No começo, fiquei assustado, preocupado que essa coisa que remete a algo estilhaçado pudesse gerar uma idéia de desastre, de explosão, mas não teve nenhum comentário sobre isso. Embora o painel seja, mesmo, estilhaçado: estilhaçado pela luz do sol, pelas sombras que cortam, por tudo. Então, não é uma forma limpa. É um fato estético que opera com a luz do lugar.
Como foi feita a execução?
No Rio de Janeiro, existe uma empresa chamada Artes e Ofícios, e ela executa esse tipo de projeto. Eles trabalham com um equipamento de corte a laser, que funciona a partir de desenhos feitos no computador. O rigor deles é muito grande. Por isso, não houve nenhum problema do tipo acidente de percurso, no sentido da montagem e do transporte da obra. Manualmente, seria impossível realizar esse painel. Imagina, são 56 módulos de pouco mais de 2 metros por 1 metro e meio. Eu soube que, aqui em Porto Alegre, o painel ganhou um apelido: Zepelim, por causa da forma meio alongada. No entanto, ele é uma forma abstrata. A elipse é uma circunferência em movimento. Refletindo um pouco sobre essa questão, sempre se colocou, ao longo dos anos, que a forma clássica seria a do círculo, que tem um centro só, um único Deus, enquanto a forma barroca seria a da elipse, que passa a ter dois centros. A elipse é uma forma que indica movimento. E a idéia, aqui, foi a de criar um fato estético. E isso, curiosamente, toca muito as pessoas, porque a grande maioria se sente desconfortável em ver uma forma abstrata. Resultado: acabam colocando apelidos que remetam a algo que lhes é mais próximo. Como o Zepelim, por exemplo. Nesse sentido, acho muito importante a atitude da Infraero, na administração do Aeroporto de Porto Alegre. Aqui, ela nos deu oportunidade de fazer um trabalho que não tinha tema. O tema era o trabalho. Já no Rio de Janeiro, por exemplo, acabaram de ser inaugurados painéis que são sobre a história da aviação, e o tratamento deles é absolutamente acadêmico. Então, a atitude da Infraero daqui é muito importante.
No caso específico do painel para o novo aeroporto Salgado Filho, quando decidiste que ele estava pronto?
Esse trabalho ficou pronto em maquete. Para um trabalho desse tipo, já existem recursos virtuais ótimos. Então, no computador, eu pude fazer uma simulação do lugar e colocar o painel nesse lugar. Tive de escolher que tipo de sombra e que tipo de inclinação seriam melhores… tudo. Na verdade, decidi tudo pela simulação, e só fui ver o trabalho como um todo aqui, no Aeroporto, quando tiraram o tapume.
Como tu lidas com a questão de fazer uma obra para um espaço público, que é para sempre? É um pouco assustador, não é?
Eu acho que uma das complicações é não fazer um trabalho que fique datado. Ele tem que ser sutil o suficiente para que ele passe pelo tempo, mas isso não me assusta.
Fora o teu painel, o Aeroporto Salgado Filho já havia inaugurado outros dois: um da Regina Silveira e outro confeccionado por Mauro Fuke, em parceria com Fábio del Re. O teu painel foi o de execução mais demorada. Foram mais de seis meses, e isso aconteceu devido ao alto custo, de R$ 400 mil. Tu chegaste a pensar que, de repente, o painel não sairia devido a esse problema da verba?
Sim, pensei. Mas é algo em que eu não posso intervir. Acho, contudo, que os mercados são diferentes mesmo. Certas cifras soam em alguns lugares como se fossem proibitivas e, em outros locais, soam como brincadeira. A quantidade de zeros com que se trabalha em São Paulo é diferente da quantidade com que se trabalha no Rio Grande do Norte! As pessoas podem pensar: Com esse dinheiro, eu compro um carro. Compra um carro, então! No fundo, é o seguinte: tem um momento em que a obra passa a ser mercadoria. Esse momento é depois que ela sai do ateliê e vai para uma galeria de arte. O grande problema é quando ela vira mercadoria antes, dentro do ateliê, ou seja, quando você trabalha em função do mercado, daquilo que ele te exige.
Já sofreste algum tipo de pressão nesse sentido, de pessoas quererem interferir no teu trabalho no momento da criação?
Sempre há essa tentativa. Existe, no mercado brasileiro, um intermediário que às vezes pode ser muito positivo e, às vezes, pode ser péssimo: o decorador. Ele é um sujeito que normalmente não tem um interesse por arte. Ele tem interesse em compor um espaço, fazer uma decoração… E aí ele vê uma parede vazia e quer colocar coisas, e aí começa a velha história das combinações dentro da tabela de cor que ele inventou para a casa de fulano. Já o bom marchand é aquele que forma coleção, ou seja, que tem idéia do valor cultural de uma peça e também do seu valor histórico, não no sentido da grande história do Brasil, mas da história valor cultural da pintura brasileira. Isso quer dizer que ele tem que saber que a peça se insere num momento, que ela é signo de um momento… Agora, tudo isso não impede que um trabalho de arte seja decorativo, porque ninguém vai falar mal de Matisse na minha frente. E Matisse é o pintor mais decorativo que se pode imaginar! Ao contrário, por exemplo, do Anselm Kiefer, que é um pintor poderoso, interessante culturalmente e, ao mesmo tempo, nada decorativo. Pelo contrário, rasgante.
Disseste, em conversa anterior, que muitas vezes o pessoal de São Paulo e do Rio, principalmente, se referem a ti como um artista gaúcho, enquanto, em outras situações, aqui, tu és tido como aquele que está fora. E isso faz com que tu te sintas estrangeiro…
Eu acho que essa é uma vantagem! Eu não sou de lugar nenhum e sou de todos! Sobre o concurso para a realização desses painéis, há até uma história interessante: soube que houve algumas cartas reclamando de eu ter ganhado o concurso aqui, questionando exatamente do porquê da escolha de um artista de fora. A condição desse concurso era que o artista tivesse nascido no Rio Grande do Sul, e eu cumpri essa exigência. Eu nasci em Santa Maria. Na verdade, acho que o certo era abrir um concurso para o mundo todo. Essa reserva de mercado que se tenta fazer tem um lado defensável, uma vez que esse é um mercado menor, então quando surge uma chance de se fazer um trabalho de grande porte, é feita uma redução, pelo menos: artistas que nasceram no Rio Grande do Sul. Mas eu, particularmente, sou do Brasil inteiro. Gosto de trabalhar no país inteiro, com as peculiaridades de cada região. Agora, por exemplo, tenho vontade de mergulhar nas Missões Jesuíticas aqui do Rio Grande do Sul. E isso é uma coisa muito pessoal. Todo mundo me fala daquelas terras vermelhas, e eu nunca fui lá, só conheço fotografias. Eu teria o maior interesse em fazer coisas lá, assim como já fiz trabalhos em Diamantina, em Ouro Preto, no Pantanal, em Goiás Velho, em Pirinópolis. É levar o olhar e pegar uma coisa que seja específica, que foi feita no lugar, mas que pode ir pra outro lugar, para um museu, por exemplo, e adquirir uma outra instância. Na verdade, a pintura às vezes está feita, está na natureza e eu vou lá e apenas a retiro do lugar, como um sudário.
De certa forma, ao trabalhar com essa questão da terra, tu trabalhas com um resgate de uma brasilidade, mas não de forma caricata. Como é isso? Porque há toda uma velha discussão sobre se é possível falar de uma arte brasileira…
Eu acho que é possível falar de uma arte do Brasil. Arte brasileira adjetiva de uma forma que eu acho que, na verdade, diminuiria… Embora existam exemplos como o Mestre Didi. O trabalho do Mestre Didi é uma arte do Brasil, da África, do mundo. Aliás, há uma frase do Aldous Huxley que eu acho espetacular: O mundo não é um monte de nações, é um monte de pessoas. Então, acho que na arte do Brasil tem tanto a minha paleta – que é essa paleta baixa, da terra, que pra mim é satisfatória – quanto a paleta do Iberê, por exemplo. A idéia de arte brasileira é a mesma coisa que a de latinidade. Há pouco tempo participei de um concurso de pintura no Chile – coisa mais louca! Aí eu ganhei um dos prêmios do concurso. E foi feita uma grande reunião com os artistas, e, fora do Brasil, no Peru, Chile, Argentina, Venezuela, Colômbia, existe essa questão da latinidade. Eu tinha acabado de voltar da Feira de Chicago e, quando cheguei à cidade, comprei o Chicago Tribune, e a manchete dizia o seguinte: O hablas español, o te quedarás para trás. E, pequenininho, em inglês: Or you speak Spanish, or you get behind. Então, eu falei pra eles: Olha, vocês estão discutindo aqui latinidade, e os caras lá estão dizendo “aprende a falar espanhol”! Quer dizer: eles estão atrás da discussão. Por que defender essa coisa da latinidade? Eu acho que tem que se defender a boa arte.
Talvez por uma baixa auto-estima…
Isso é o que eu acho. Mas nós, brasileiros, temos um privilégio diferente, porque a gente tem um país miscigenado. E isso é fantástico! A nossa discussão está muito mais na frente. Ninguém fica exigindo carteirinha de negro pra fazer samba bom. Não existe mais isso. E eu acho que essa miscigenação muito rápida foi um privilégio do Brasil, enquanto que os países de língua hispânica têm uma resistência racista maior, principalmente em relação ao negro. Então, sobre a idéia de arte brasileira, eu acho que é arte do Brasil, feita no Brasil. Se pegarmos o Krajcberg, por exemplo, que é um polonês que lutou do lado da Rússia, ele faz o quê? Arte polonesa? Ele faz arte do Brasil. Ele é um cara dedicado ao Brasil, é uma pessoa que incorporou o Brasil. Não fala mais nem polonês direito, nem russo, nem português, mas é um cara que espiritualmente está absolutamente entranhado aqui. Eu devo muito a ele essa questão dos pigmentos que utilizo em meus trabalhos. Foi ele que me introduziu aos segredos de Minas. Quando a Varig me chamou em 1970 para fazer um painel em Paris, eu pedi a ele: Me mostra aí. E ele falou: Vem me encontrar em Minas. Eu fui, e ele me levou aos lugares onde catava os pigmentos.
Assim como tiveste uma forte convivência com Krajcberg, a tiveste com Iberê Camargo. Como foi esse convívio?
Existia uma galeria no Rio de Janeiro, que se chamava Galeria Relevo. Quem trabalhava nessa galeria era a Tereza de Lima, filha do poeta Jorge de Lima, que conhecia muitos artistas, dentre eles o Iberê. E ela conhecia os meus desenhos, além das minhas jóias. Eu estava começando a ficar de saco cheio das jóias, porque a jóia acaba sendo um décor na mão, não tem vida própria. Embora ela tenha características artísticas, é sempre um penduricalho, e eu estava ambicionando um pouco mais. Então, ela me disse que ia me apresentar ao Iberê. Eu falei por telefone com ele, e ele me disse para levar os meus desenhos na casa dele. Aí eu me mandei, com um catatau de desenhos. Ele olhou aquele negócio todo e falou assim: Vem pra cá, para o meu ateliê. Vem trabalhar aqui. Aí eu fui. Fiquei espremendo uns tubos de tinta e tal… Ele montava umas naturezas mortas pra eu desenhar e, quando precisava de mim, me chamava: Espreme aqui vermelho, branco…
Tu tinhas que idade?
Uns 22. Nessa época, jogava voleibol profissionalmente. E ele ficava com ódio, porque chegava seis e meia da tarde, e eu dizia que tinha que ir embora por causa do treino. Ele ficava louco: Não Pode! Ou tu és artista, ou esportista! Eu acho que daí nasceu uma amizade muito grande. Eu conto uma história que é verdadeira: às vezes, o Iberê ficava muito brabo com uma coisinha mínima no quadro. Ele gastava aquela tonelada de tinta, mas não gostava… E eu falava: Iberê, tá pronto! Tá pronto, não mexe mais, pelo amor de Deus! E ele: Não, tchê, aquele troço tá me agoniando! Ele ia lá e, pronto, estragava tudo. Um dia, tinha um quadro enorme, que tinha ficado pronto. Ele já tinha sentado, eu havia lavado tudo, havia limpado a paleta, que era um carrinho de rodas… Depois, quando já estava em casa, de repente, liga a Maria: Vergara, vem pra cá, que ele tá querendo mexer de novo! Foi uma convivência muito intensa mesmo!
Quanto tempo tu ficaste ali?
Foram dois anos. Quando teve a exposição Opinião 65, o meu trabalho tinha ganhado um caráter muito objetivo, e tava aquela coisa política. O Iberê era contrário a isso, ele tava muito incorporando a coisas da visualidade geral. Daí ele disse pra mim assim: Olha, eu acho que tá na hora de tu ter a tua vida própria. Mas o impressionante é que depois eu passei mais ou menos uns 15 anos sem ter um contato mais próximo com ele. E aí, quando vim a Porto Alegre para fazer a exposição na Casa de Cultura Mario Quintana, no início dos anos 90, eu queria que o Iberê fosse ver as coisas. Aí eu liguei pra Maria: “Maria, onde é que tá o Iberê?” E ela: “Foi à cidade, foi comprar cuecões. Vai para a Rua da Praia, que ele vai passar por lá!” Aí eu fui pra Rua da Praia, escolhi uma esquina e fiquei olhando… Dali a pouco, lá vinha ele, e foi uma coisa impressionante! No dia seguinte ele foi lá ver a exposição, e nós vimos tudo abraçados. Foi uma coisa muito emocionante pra mim.
Que tipo de ensinamento tu aprendeste da convivência com Iberê?
Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Iberê é que ele tinha muito rigor em relação ao critério de escolha. Porque quando você começa um trabalho, existe, pelo menos, um grande problema: decidir quando ele está pronto e se ele está certo ou errado. O trabalho não pode ter muitas referências externas. O artista está sempre procurando fazer um discurso em que a sua individualidade esteja presente e que, ao mesmo tempo, ela converse com o universo estético do mundo. O Iberê, particularmente, era muito rigoroso em relação a essa questão. Por isso, durante os anos em que trabalhei com ele, eu desenhava muito, e ele era muito rigoroso mesmo. Ele olhava os meus trabalhos e me dizia: Isto é uma merda! Rasga! E eu demorei um tempo para saber porque era ruim. E quando ele dizia, entusiasmado: Isto aqui é um desenho! Também demorei um bom tempo para compreender aquilo ali. Mas aprendi.
A última Bienal do Mercosul tinha um espaço no Santander Cultural que era todo dedicado a discutir questões da pintura. Tu, que produz obras tão diferentes, mas sempre muito a partir da pintura, como vês o espaço desse tipo de produção hoje?
Na produção de arte, existe um tipo de produção que se chama pintura, e quem pratica esse tipo de produção aceita uma carga de tradição, e eu não vejo um limite nisso. O trabalho de arte é, na verdade, a expressão de um pensamento, que pode ser um pensamento absolutamente visual, que se dirige a áreas sutis do teu ser, através do teu olhar. O olhar, acredito, tem uma inteligência própria, que é a inteligência menos hábil dos nossos talentos, porque a gente usa o olhar muito pragmaticamente. Você, na verdade, usa o olhar para não tropeçar nas coisas. A abstração do ouvido, por exemplo, é muito maior. Tanto é que o tempo da pintura é muito maior que o tempo de uma música. A pintura é muito mais intrincada. Eu acho, por exemplo, que uma boa pintura tem pele, músculo, osso… Ela tem camadas, ela tem passado. Ela mostra isso na sua estrutura. Ela tem que ser capaz de se diferenciar e de dizer a que veio. Então, pode ser que a pintura seja, digamos assim, muito sutil, mas, se você der tempo a ela, ela continua sendo eloqüente o suficiente para atingir áreas sutis do teu pensamento que vão te equipar para que tu vejas o mundo melhor.
Mas o grande problema é que o público tem um olhar rápido, viciado…
Isso é problema do público, é um problema de educação, de cultura. Não está no trabalho de arte. Se a população é mal educada e, além de não ter conhecimento cultural, não tem vontade de ter, isso não é um problema do artista.
No universo das artes visuais, o que te surpreende hoje?
Tem gente que tem horror do Bill Viola… Lá na Feira de Chicago, tinha uma coisa impressionante. Tinha uma sala onde tinha uma tela plana de cristal líquido, que parecia um portrait: eram cinco pessoas. Eu passei por ali pela primeira vez e não me toquei. Quando passei pela segunda vez, tinha mudado a posição. Daí que eu fui me tocar que aquilo era um filme que tinha sido gravado em altíssima velocidade, sendo passado em câmera normal. Então os gestos eram lentíssimos, quase imperceptíveis. Eram cinco pessoas que estavam vendo uma coisa horrorizante, e isso de “chegar ao horror” se dava numa lentidão máxima. Esse é um trabalho que eu acho interessantíssimo… Tem também um trabalho do Walter De Maria, que são cinco fotografias. Ele pegou um campo de grande intensidade elétrica, no deserto do Novo México, e colocou postes de aço ao longo de uma milha. A primeira fotografia é exatamente esse deserto com os postes de aço e montanhas no fundo. A segunda fotografia é o tempo se fechando, com nuvens e tal. A terceira fotografia é um céu negro E a última imagem mostra todos os raios indo para onde ele marcou. Eu acho essa a maior ilustração da arte, ou seja, a energia dispersa vai para onde o artista marca. A boa arte é essa que consegue tirar de você essa dispersa sensação de ser humano.
No Brasil, hoje, que artistas tu destacarias?
Eu adoro o Tunga. Acho interessantes também as coisas que o Ernesto Neto tem feito. Gosto muito do Waltércio Caldas. José Rezende é um amigo diretíssimo meu, e eu gosto muito do trabalho dele. Ele é um homem que opera com coisas muito sutis: coisas moles pra fazer uma coisa dura… ele produz parábolas com os materiais… Gosto muito das coisas da Iole de Freitas, gosto de algumas coisas da Fernanda Gomes, gosto muito da Carmela Gross, gosto da Karin Lambrecht…
E quanto a esse projeto de realizar uma intervenção na Estação do Brás?
É nisso que eu estou envolvido agora, nesse projeto do grupo Arte Cidade.
Como é esse projeto?
Esse projeto é o seguinte: a linha do metrô e a abertura da radial leste destruíram um bairro tradicional de São Paulo, desmontaram a vida de bairro, a vida familiar… E a Estação do Brás é uma praça gigantesca, que está a oito metros de altura do chão, e que se liga a uma estação de estrada de ferro usada pra saída da cidade de São Paulo, e ninguém desce pra essa praça. Então a praça é um espaço vazio, e eles criaram uma espécie de marcação, fizeram um loteamento, como se aquilo fosse um lugar para fazer uma feira de camelôs. E isso não aconteceu, porque quase ninguém passa a pé por ali. Então, quando me levaram para conhecer o lugar, eu tive uma espécie de insight. A idéia me bateu na hora e é essa a idéia que eu estou desenvolvendo. Se fosse um jogador de búzios, por exemplo, quando ele jogasse os búzios, os búzios não cairiam. Os búzios ficariam flutuando, quer dizer, não dá pra adivinhar o futuro daquele lugar, porque aquele lugar tem um passado que foi raspado e não tem um futuro. Nada indica um futuro pra ele. Então eu vou fazer uma feira de adivinhações, um grande espaço onde os camelôs farão uma espécie de espiral pro céu. São quatro espirais feitas com as barraquinhas de camelô mesmo. E tem quatro barracas onde haverá atividades de adivinhação, discussão de comunidades de bairro sobre o futuro do lugar… É uma feira de adivinhação que vai se perguntar pra onde vai aquele lugar. E eu vou criar o espaço visual disso, mas tem muito mais gente envolvida. Tem ONG envolvida, comunidades de bairro… E esse é o grande problema, porque tem muita gente envolvida. A questão da grana é complicada também, porque se ficar chocho, não vai dar pé. Tem que haver uma espécie de grandiosidade que motive pela própria grandiosidade. Na verdade, o trabalho é quase cenográfico. Ele tem que motivar a aglomeração de gente naquele lugar. É um trabalho complexo, mas é estimulante, porque mexe com gente. Então eu estou planejando essa história, mas meio apavorado, por que não se sabe se isso tudo vai acontecer ou não.
E, se acontecer, será quando?
No dia 2 de março. Vamos rezar.
Para ver as obras do artista na coleção, clique aqui.
Imagem: Carlos Vergara trabalhando no antigo Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo. Foto © Acervo Documental da Fundação Iberê Camargo