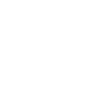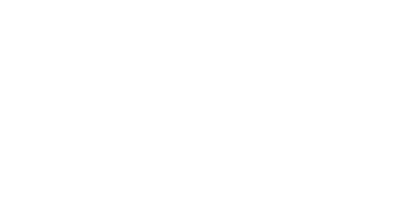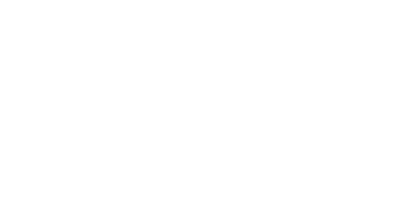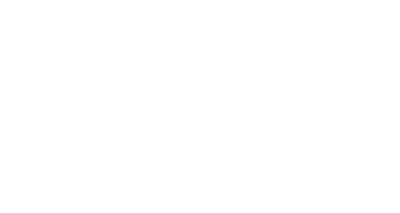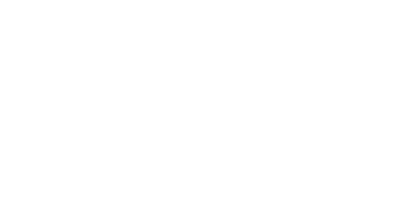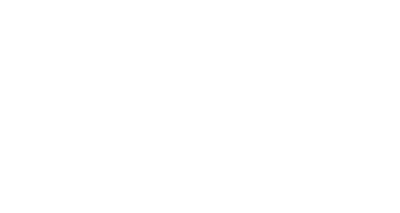Entrevista com Elisa Bracher

Escultora e gravurista, a Elisa Bracher esteve em Porto Alegre, em 2006, trabalhando no Ateliê de Gravura que foi de Iberê Camargo, através do projeto “Artista Convidado”.
Em entrevista concedida ao Site da Fundação Iberê Camargo, à época de sua residência no Ateliê, a artista fala sobre a sua relação com o fazer, sobre a construção da matéria e sobre o trabalho educativo que desenvolve no Instituto Acaia (SP), ao qual é diretora e fundadora. Confira.
Você sempre quis ser artista?
Sempre desenhei, mas nunca pensei em ser artista. Pensava em ser pedagoga ou professora. Por isso, comecei a fazer cursos de desenho em São Paulo e a Faculdade de Artes Plásticas. Queria aprender para poder ensinar, dar aulas e transmitir um pouco dessa experiência.
Quando se deu a paixão pela gravura?
Foi na faculdade. Mas, naquela época, ainda tinha uma idéia de que o meio publicitário era bacana. Algo totalmente oposto ao que vejo hoje. Mas, quando fui fazer um estágio numa agência, que entrei em contato mais próximo com isso. Neste lugar, tinha um produtor gráfico sensacional, que me levou para esta área gráfica. Eles estavam imprimindo uma revista que tinha uma altíssima qualidade gráfica. Neste momento tudo virou na minha vida. A partir disso, fiz vários outros estágios em gráficas. Chegou uma hora em que eu não tinha opção. Ou eu ia para uma escola técnica, ou eu fazia gravura, que era o princípio da gráfica. Optei pela gravura. Lembro bem de professora que me mandou ver Os Caprichos de Goya. Fiquei completamente apaixonada. Foi a inspiração para o meu primeiro trabalho: uma série de gravuras em cima dos fundos de Os Caprichos de Goya. Depois disso, comecei a fazer mais cursos, entre eles o de Gravura em Metal, com o Evandro Carlos Jardim.
Fale um pouco sobre a questão das dimensões das suas obras, que é notável tanto nas gravuras quanto nas esculturas.
Sempre tive um trabalho com grandes dimensões. Para mim, a obra tem que ter o tamanho do homem. Tem que ter um embate igual. O homem não pode estar numa posição superior à obra. Eu tinha muita raiva dessas imagens de galeria e de museu com aquele “não toque nas obras”, que detesto. Eu achava que, quando uma pessoa olhava para a obra, os dois deveriam estar numa situação de igualdade. Daí essa história de ser tudo muito grande.
Acredito que tenha sido por essa dimensão e limpeza, que se mantém até hoje no meu trabalho, que consegui inovar. Outro diferencial é a maneira que construo a imagem, uma forma bem ligada com a questão industrial. Tenho uma porção de máquinas no meu Ateliê. São máquinas usadas para produção em grande escala, para indústria. Gosto dessa relação de ter essas máquinas, de usá-las cotidianamente para a produção de um. É quase que uma inversão dessa coisa produtiva. Isso é uma coisa que me agrada muito.
Você começou com gravura. Quando descobriu que poderia fazer escultura.
Foi durante uma exposição coletiva no MAM, em São Paulo. Expunha gravuras enormes com uma linha só. Estava sentada, naquele momento anterior a abertura da exposição, quando percebi que não queria mais usar o papel. Queria um linha sem o papel. Daí que comecei a fazer escultura. Queria mais massa, aí vieram as esculturas grandes em madeira. Mesmo assim, a gravura sempre esteve acompanhando. Sempre veio junto. Eu nunca fiz só escultura.
Com as esculturas, você começou a expor em espaços públicos. Inclusive teve um episódio em que uma obra sua foi retirada de um local, gerando um amplo debate em relação aos problemas do espaço urbano. Como se deu este fato?
Era uma obra composta por sete troncos de garapeira da Amazônia, cada um com 5m de comprimento, exposta no largo do Arouche, no centro de São Paulo. A retirada aconteceu em decorrência de polêmica em torno da obra, travada entre a Administração Regional da Sé, o Departamento do Patrimônio Histórico e uma associação local de moradores, que pressionou pela supressão da peça.
Mas, acho que houve um debate muito interessante, mais rico do que a escultura não estar ali. Uma parte das pessoas realmente se sentiu agredida pela escultura. Violentadas por estar naquele espaço em que se sentiam donas. Foi muito curioso, porque coloquei a escultura numa ilha de concreto minúscula, que tinha dois faróis e uma placa. Aí as pessoas falavam assim: “mas você destruiu a nossa praça”. Então foi muito curioso, porque a escultura pode fazer a praça e desfazer ao mesmo tempo. Porque antes disso, nunca aquele espaço tinha sido considerado praça. De certa maneira, mostra o poder da escultura. Ela realmente transforma a relação das pessoas com o espaço. Depois de retirada, a obra foi para o Centro Cultural São Paulo e está lá até hoje.
Mas isso é uma característica do Brasil. Estamos no país da iniciativa privada, do espaço privado, um país muito egoísta neste aspecto. Diferente da generosidade da natureza, da geografia, temos uma sociedade extremamente egoísta. São Paulo é uma cidade assim, onde tudo acontece do muro para dentro. Seja das pessoas que têm mais dinheiro e trancam suas casas, seja das comunidades que têm menos dinheiro, que se trancam quase que por proteção, por medo de sair. Então o espaço público vira um espaço abandonado, uma terra de ninguém. .
Além dessa, você já passou por outras situações peculiares, como artista?
Certamente. Algumas bem mais divertidas, inclusive. Uma delas foi quando montei a exposição na Pinacoteca do Estado de SP em 1999. Tinha duas obras que ficaram na calçada, era de madrugada, horário que sempre montamos, pois tem a função de caminhão, moto-serra, enfim toda uma operação. Naquele momento, passa uma senhora na rua. Não sei se era prostituta, ou algo assim, mas estava bem mal vestida e suja. Vinha com a cabeça baixa, quando de uma hora para outra ela olha para a escultura, grita e abraça a obra. Ela falava: “Eu sei, esse negócio não é daqui, é de fora do Brasil”. Eu estava na parte de dentro da grade da Pinacoteca, porque estava montando outras coisas, mas resolvi ir até ali explicar para ela que não era de fora do Brasil, pois eu tinha feito. Mas ela continuou insistindo que era de fora do Brasil. Falei que a madeira tinha vindo da Amazônia e ela: “Então, eu também vim de lá, é de fora da Brasil”. Eu achei super bacana, porque em nenhum momento ela podia acreditar que o lugar em que ela estava morando, que era São Paulo, era o mesmo lugar de nascença dela. Eram duas realidades tão desconectadas.
Outra situação divertida foi no Rio de Janeiro. Também montava uma exposição de madrugada. No momento chegavam as barcas de Niterói, na Praça XV. A gente coloca as toras deitadas e depois levanta. Elas estavam deitadas, esperando os guindastes para por de pé e vinham dois senhores de terno caminhando, quando soltam uma pérola: “Olha só meu irmão, imagina, colocar esse monte de toco no meio da Praça XV”. Eu achei o máximo. Logo depois, elas já estavam de pé e chegou um rapaz com uma banquinha e escreveu num papel “vende-se côco”, e prendeu na escultura. Ele viu que eu estava olhando e falou: “É sua, pode deixar que eu tomo conta”. Sensacional.
O mais interessante foi depois, na hora de desmontar, veio um policial me indagar porque eu estava tirando as obras dali. Então expliquei que tinha acabado a exposição, que inclusive tinha ficado mais tempo que o planejado. Daí ele perguntou quem tinha dado autorização e falei que eu era a artista. “Pô você é artista, que pena eu não queria que levasse embora”.
Que relação você faz entre o museu e o espaço público?
O museu, por mais bacana que seja, tem uma política pública interessante. Ele é um lugar que transforma o comportamento das pessoas. Quando você entra no museu é o expectador, quando está na rua não é assim. Eu acho que essa surpresa da rua é algo que não acontece no museu. Você pode até entrar num museu ou galeria e ficar surpreso com a obra, mas é uma surpresa de expectador. Uma coisa interessante que percebi no largo do Arouche, foi a conclusão que cheguei, depois de passada a história. Percebi que se fosse uma escultura acadêmica, de um cavalo ou general, ninguém teria reclamado. Eu acho que o que realmente agrediu as pessoas porque era o desconhecido. Aquilo provocava uma sensação absolutamente desconhecida nas pessoas. È um trabalhão ter que lidar com isso. Acho que é um trabalho educativo, à medida que trabalhamos num país que ta muito empobrecido, mesmo culturalmente. Você expor as pessoas a uma reflexão é algo que deve ser feito.
Falando em educação. Fale um pouco do trabalho que desenvolve no Instituto Acaia?
O Acaia quer dizer útero, em Tupi Guarany. A idéia básica é você receber as crianças, na condição em que elas vêem, que não é nada boa, e criar um ambiente de fortalecimento para que, posteriormente possam ir para o mundo sozinhas. A gente as recebe e propõe uma série de atividades que elas podem ou não fazer. Temos um respeito muito grande pelo ritmo da criança. Às vezes, da mesma maneira como vaga na rua, ela vaga lá dentro. Fica muito tempo andando e andando, sem fazer nada. Algumas vezes criando confusão, até que algo dentro dela desperta. Acredito que a máxima do Acaia seja o vínculo. A partir de um momento, que descobre este vínculo, a criança consegue se vincular ao outro. Todas as crianças que estão lá se mostram hábeis. Elas já vêm com uma habilidade, com uma energia de trabalho. O que acontece é que o meio em que vivem é tão desorganizado, que às vezes isso não aparece. De fato, todas as crianças que entram lá acabam conseguindo se organizar internamente para trabalhar.
O que mudou na sua arte, a questão de sair do museu para o espaço urbano?
Acho que ela se abriu mais. Ficou mais influenciável, não por obras de outros artista, mas, mais vulnerável ao mundo. Acabei me tornando uma pessoa mais pública também, mais aberta, de deixar que essa influência do cotidiano tenha mais valor.
Você já produziu várias gravuras, aqui no Ateliê que foi de Iberê. Como está sendo essa experiência?
Foi muito engraçado, pois acabei de abrir uma exposição em São Paulo. Normalmente, quando você faz uma exposição, fica um tempo meio moribundo. Eu abri no sábado e vim para cá no domingo. Está muito bom. Uma delícia. Nunca tinha trabalhado assim com assistente o tempo inteiro. A gente grava, já imprime, vê o que aconteceu. É algo bem produtivo e prazeroso. Só me dá mais vontade de fazer mais gravuras ainda. Aquele tempo de descanso dançou.
Fale um pouco sobre essa nova exposição.
Depois que expus as madeiras na Pinacoteca, fiquei muito tempo não fazendo só escultura, mas mostrando só escultura. Teve uma exposição bacana na Maria Antonia, que as esculturas tomaram um volume muito grande. Aí eu resolvi retomar um pouco o centro. A gravura para mim é como se desse um eixo, um caminho a seguir. Aí resolvi assentar um pouco e ficar dois anos fazendo só gravura. Quando queria fazer gravuras maiores tinha que emendar uma chapa na outra. Dessa vez não, peguei chapas de 2 por 1, e produzi 40 imagens fechadas nelas mesmas, que tem um pouco aquele aspecto industrial que falei. São 40 imagens locadas uma muito próximas umas das outras. Deixei acontecer a criação dessas imagens. Acho que é um momento importante, de reflexão mais profunda, acho que a gravura é mais intimista, mais interna.
E para o futuro, quais os planos?
Abro uma exposição em novembro, apresentando quatro esculturas em ferro. Depois, quero parar um pouco, para poder pensar e curtir os meus dois filhos. Vai ser bom!
Para ver as obras da artista na coleção, clique aqui.
Imagem: Elisa Bracher trabalhando no antigo Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo. Foto © Acervo Documental da Fundação Iberê Camargo