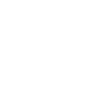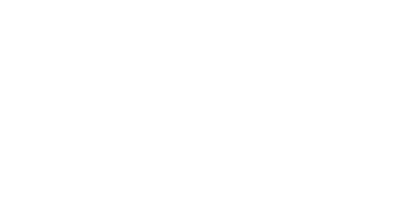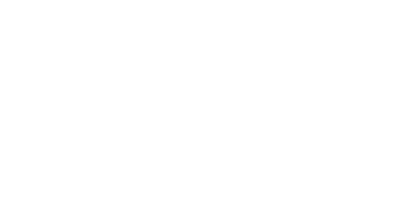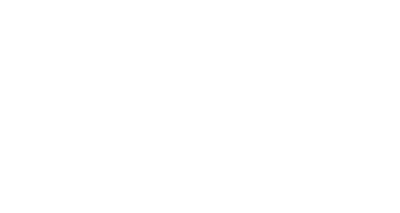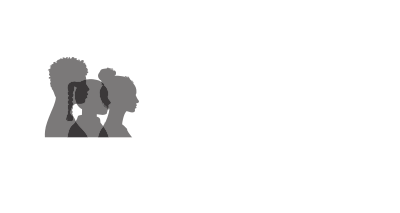Entrevista com Fabio Miguez
Fábio Miguez é pintor e gravador. Foi, em 1982, um dos fundadores do grupo Casa 7, ao lado de Carlito Carvalhosa, Nuno Ramos, Paulo Monteiro, Rodrigo Andrade e Sérgio Fingermann. O artista também trabalha com ilustrações e projetos gráficos.
Fábio Miguez foi o artista convidado de novembro de 2004 para trabalhar durante uma semana no ateliê de gravura que foi de Iberê Camargo, no projeto “Artista Convidado”. Foi no ateliê, que ele concedeu esta entrevista.
Como foi o Casa 7 naquele momento da tua carreira e de que forma essa experiência repercutiu?
A gente começou no grupo Casa 7 no início da década de 1980 e foi uma experiência muito forte, porque tínhamos uma relação de disputa e uma vontade de conseguir fazer um trabalho muito grande. Como éramos cinco, um aprendia com o outro, roubava coisas do outro, era um momento super fértil. Durou até 85, 86, daí nós logo nos separamos e cada um tocou o seu trabalho. Isso deu um começo forte, que o trabalho traz até hoje. Agora, já faz tempo isso. O trabalho teve outras informações, outras experiências, outras entradas, fora a Casa 7.
Como por exemplo…
São muitas, em vários períodos. Logo que a gente desfez o grupo, eu tive um movimento meio natural de olhar para artistas brasileiros, que eu conhecia mal, bem na década de 80. Comecei a conhecer Iberê Camargo, Mira Schendel, Amílcar, os artistas da geração do Zé Resende, Waltercio Caldas. Isso mudou um pouco, porque antes a gente era mais ligado a questão da pintura. Enfim, é uma quantidade enorme de artistas que eu gosto e que de certa forma interagem com o trabalho.
Os teus trabalhos têm uma relação muito forte com a cor. Como se dá isso?
A cor é muito forte no meu trabalho, mas ela funciona sempre de uma maneira funcional. Eu não penso muito a cor isoladamente. Eu acho que a cor tem que ter uma certa razão para estar lá. Mas normalmente ela funciona sempre com essa característica indicar espaço. Nos últimos trabalhos, elas têm esse aspecto de sinalização espacial muito forte. E, eu acho que agora nos mais recentes, até tem uma certa autonomia, eu até busco uma cor, uma integridade. Mas é sempre funcional, sempre indicando alguma coisa.
Esses trabalhos, com as formas tridimensionais, que saem da pintura, como foi o caminho até eles?
Começou já há um certo tempo atrás. As pinturas já tinham alguns relevos em madeira, mas de forma muito mais sutil e delicada, porque agora ficou um relevo tridimensional mesmo, no volume. Até, o elemento é tão forte nesse sentido do volume, que eu mudei o suporte. O suporte que eu trabalho agora é o compensado, a madeira. Enfim, eu acho que eu ganhei uma certa proporção com o elemento escultórico, e também o compensado, ele tem esse aspecto que não é tão neutro como uma tela. Ele é um elemento de construção, ele entra como se fosse uma parte do mundo.
Foi meio que um caminho, começando pelas tintas, depois a madeirinha. Foi uma indicação, uma coisa de espaço, que foi aumentando. Até tem uma coisa que eu escutei ontem lá na palestra (referindo-se à palestra que deu em Porto Alegre), que eu achei bacana sobre o meu trabalho: na verdade, os limites estão cada vez acontecendo mais fora do trabalho, mais fora da tela, mas eles retornam para a tela, porque continua sendo pintura. Você tem esses elementos colocados sobre a tela, parece que eu fui lá e coloquei uma folha por cima. Quando chega nesse volume grande, então, nem se fala, porque na ponta desses volumes, eles estão pintados, a ponta das trombas estão pintadas. Então, aquele elemento que está pintado, fica realmente fora do quadro, mas ela retorna de certa forma, para o suporte, para o quadro. Então, a questão dela é sempre pictórica. Eu acho que esse branco (falando sobre o objeto tridimensional branco) tem até um pouco a memória da tela, eu gosto desse branco. Isso aconteceu, porque a madeira do cilindro ficava com a madeira do suporte, achei meio cafona, então, eu resolvi pintar de branco o cilindro e eu gosto. Tem também um sentido que é meio engraçado, que parece que de certa forma, o quadro está furado e a parede sai pra frente, alguma coisa meio engraçada.
E as formas, desses últimos trabalhos? Antes elas eram bem mais abstratas, agora elas são bem mais definidas. A cor agora demarca muito mais.
A coisa aconteceu da seguinte forma, o meu trabalho a partir de 1990, onde tinha a cor bem forte, mas de forma bem disforme, foi passando por um processo de ascetismo. Ele foi ficando cada vez mais simplificado e mais claro. Depois, ele vai ficando mais claro, mais branco. Essas pinturas são super bonitas, mas é preciso ficar ali horas, elas não te pegam pelo braço. Elas ficaram muito evanescentes. Comecei a achar que o trabalho não estava mais comunicando muito, estava ficando meio pra mim, muito ensimesmado. Então, eu fiz uma espécie de contra gesto. Eu coloquei, uma vez, no quadro um elemento. Nesses trabalhos que tinham até menos cor, eu coloquei uma tarjinha verde para ver como funcionava. E, foi muito legal, foi meio que uma descoberta, porque, então, eu comecei trabalhar com várias coisas, faixinha, quadrado, outras formas mesmo, e elas funcionavam num plano diferente da pintura. É como se eu tivesse atrás a minha pintura anterior e tivesse essas coisa sobrepostas. Então, isso deu para mim um gás, uma liberdade. Eu comecei a trabalhar em layers, o layer da pintura, depois vem os outros layers, isso faz também que com que o trabalho fique com tempos diferentes. Fica tudo mais fácil de construir, porque essa parte de trás não precisa estar resolvida, porque o que importa dela é a relação com as outras coisas. E, você tem uma espacialidade grande também, quando você tem uma parte liquefeita, aguada e um quadrado denso com a espessura da tinta. Então, funcionou para mim assim, no sentido de dar uma outra coisa, um outro tempo da pintura, uma outra questão, porque estava muito ensimesmado. Daí, esse negócio foi indo, tanto do ponto de vista do volume, como do ponto de vista das formas. As formas são simples, são coisas que não são nada, são elementos bobos, simples, que formam uma poética legal. Na verdade, lembram retângulos, mas elas são um oito, uma gota, um balão, uma comadre, uma vírgula.
E os trabalhos com foto, como é o processo? Tu continuas fazendo?
Eu continuo, mas eu não sou fotógrafo. Eu sei algumas coisas técnicas básicas. A história desse trabalho, é meio louca, mas é bacana e ela foi importante para mim. Eu morei no litoral de São Paulo, então eu fiz esse trabalho. Isso aqui funciona da seguinte forma: são vários pares, a câmera está sempre numa posição parecida. Ela tem uma variação pequena. E a idéia é de um lado construir uma paisagem com umas fotos bem abertas, e essa caixa, ela vai fechando, fechando, até ter uma coisa completamente fechada. Então, tem essa transformação. Na série de fotos você vê isso. Um lado é meio de cima, tem esse fluxo de água, funciona com esse fluxo, esse batimento, tem assim uma pulsação, e o outro lado é uma coisa silenciosa. Então é isso, chama Deriva, ele começou com o nome de 12 Horas, era uma coisa rígida, eu ia fotografar duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, era essa a idéia. E, aí ficou super rígido, não dava certo. Quando eu trabalhei de um jeito mais solto, mais mole, sem tanta rigidez no conceito, é que o trabalho começou a funcionar. Entrei na água, comecei a descobrir algumas coisas, achei melhor o enquadramento desse lado, então, daí foi. Foi um trabalho que eu demorei um tempão para fazer, porque no início ele não dava certo, eu demorei para perceber que um lado era cinza e o outro preto e branco, até que deu uma síntese e chegou. Por isso, que o nome Deriva tem mais a ver do que o nome 12 Horas. Deriva é mais mole, uma outra situação. Uma história que eu sempre conto, quando eu falo desse trabalho, e que eu acho legal, é o seguinte: fui procurar no dicionário o que queria dizer deriva, exatamente, porque a gente está acostumado a falar “a deriva”, que é um pouco diferente de deriva. Um dos sentidos de deriva é o seguinte: você tem um instrumento, um relógio, por exemplo. Então, o teu relógio atrasa 5min por mês, esses 5min são a deriva do relógio. Eu adorei essa idéia, porque é um tempo completamente diferente das 12 horas iniciais, rígidas. Então, a história desse trabalho é isso. Essa idéia de dispersão, essa coisa que apareceu nesse trabalho, acabou indo para a pintura, acabou me influenciando de um jeito indireto. É um trabalho que marca muito o jeito que eu penso o trabalho. Uns anos depois, eu fiz outro deriva, que é no seco. Um pouco o mesmo espírito do mesmo trabalho. Eu continuo fotografando, mas como eu sou meio devagar para fotografar, eu não tenho um conjunto, quando eu formar, eu exponho. Não tenho isso ainda muito claro.
Você acha que usar a pintura, hoje, que é um suporte tradicional, acaba diferenciando?
Esse negócio da morte da pintura, felizmente, está um pouco acabando, as pessoas não insistem tanto nessa tecla. Tem muita exposição de pintura por aí. A morte da pintura ficou meio anacrônica. E, eu acho que pintar, hoje, paradoxalmente, é uma coisa muito interessante, porque tem tanta instalação por aí, tem tantos vídeos, tem tanta coisa, que a pintura acabou ficando em uma posição meio marginal, que é uma posição boa para a arte. É interessante, é uma posição rica. É uma coisa que eu acho que é meio contrária do que os críticos e as pessoas falam como suporte tradicional. Na verdade, é uma situação privilegiada, porque ela meio que está à margem do mercado, das curadorias.
Você chegou a fazer gravura no início da sua carreira. Como é retomar?
Quando eu tinha 18, 19 anos, eu estudava arquitetura, entrei no ateliê de gravura e comecei a mexer com essas coisas. Então, a primeira coisa que eu fiz em termos de artes plásticas foi gravura. Mas era uma coisa totalmente incipiente, não tem nenhuma gravura dessas que não fosse para o lixo. Mas, eu tive essa formação – foram dois anos no ateliê do Sérgio Fingermann. Então, fazer gravura agora é super gostoso, porque eu retomo um negócio de 20 anos atrás. Até sei algumas coisinhas, acho que isso ajuda, mas é sair do zero.
Para ver as obras do artista na coleção, clique aqui.