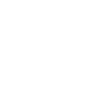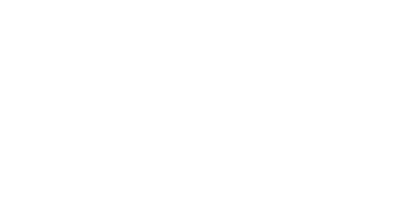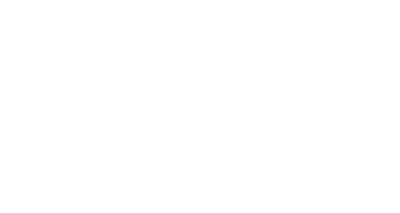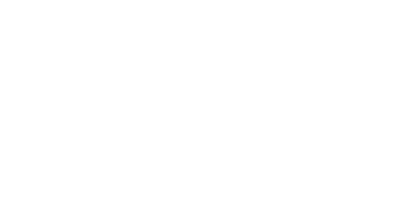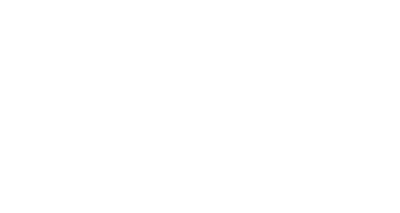Entrevista com Germana Monte-Mór
Entre os dias 13 e 17 de outubro de 2014, a artista carioca Germana Monte-Mór participou do Programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura da Fundação. Ao longo de sua carreira, a artista já acumulou mais de 70 mostras individuais e coletivas, nas quais expôs seus desenhos, gravuras, pinturas, esculturas e fotografias. A principal característica de seu trabalho é o uso de novos materiais, como o asfalto. Nascida em 1958, ela é graduada em Ciências Sociais pela UFRJ e em Artes Plásticas pela Faap, além de mestre em Poéticas Visuais pela ECA-USP.
Durante a semana que passou trabalhando com os equipamentos que foram do mestre Iberê Camargo, a artista conversou com a equipe do site. Ela falou de seu processo de trabalho e do resultado da residência em Porto Alegre. Confira aqui a entrevista na íntegra:
Além de Artes Plásticas, também és graduada em Ciências Sociais. Que influência tu acreditas que as Ciências Sociais tenham sobre o teu trabalho?
Primeiro eu fiz Ciências Sociais na UFRJ, onde você já concentra uma área de pesquisa na graduação, então eu fiz antropologia e trabalhei com pesquisa de questões indígenas durante algum tempo. Nada é tão separado assim, então eu acho que, durante o meu processo de trabalho, a área de antropologia está bastante contida no sentido do que eu já vi, das imagens que eu já vi, do que me influencia. No meu trabalho de artista, a linguagem que eu desenvolvo há bastante tempo não é figurativa. Por isso, eu não sei se a antropologia tem uma influência direta no meu trabalho de artista, talvez tenha mais no meu trabalho como educadora.
E esse trabalho de educadora que tu mencionas já acontece há quanto tempo?
Eu dei aulas em escola, ateliês e universidade… Lecionei desenho e pintura por 16 anos no Mackenzie. Sempre desenvolvi esse trabalho de educação. Hoje em dia, seis anos depois que eu saí da universidade, eu faço um trabalho de assessoria numa galeria de arte popular em São Paulo, onde a gente está desenvolvendo um trabalho de tentar aproximar o mundo da arte contemporânea com o mundo da arte popular. Então, eu tenho trazido os curadores de arte contemporânea para fazer curadorias nessa galeria, faço esse diálogo. Nesse sentido, essa minha vivência da antropologia, de muitos anos, também foi bastante importante.
Já havias trabalhado com gravura antes?
Eu sempre desenhei, desde criança, e que mais me interessou sempre foi o desenho em si – a linha, a mancha, a forma – e não a relação de cor. Eu nunca fui seduzida pelas cores no sentido de querer trabalhar com cor. Muito pelo contrário, eu sempre desenhei com nanquim, com carvão, e sempre muito mais a forma. A partir disso, a primeira linguagem de expressão que eu trabalhei mais sistematicamente foi a gravura… Eu trabalhei durante bastante tempo com gravura em metal.
O que eu acho que limita um pouco esse fazer da gravura é a questão do tamanho, a questão do fazer em si, em que você não consegue uma expressão tão rápida. Eu cansei um pouco, quis experimentar e deixei a gravura de lado. Na verdade, eu só retomei a gravura em determinados projetos como esse aqui. Foram projetos pontuais que eu desenvolvi durante a minha carreira, mas eu não utilizo mais sistematicamente a linguagem da gravura.
Quando me convidaram para fazer a residência aqui eu adorei porque primeiro eu acho que você sai do seu habitat normal: você está em outra cidade onde você conhece muito menos gente, então fica muito mais concentrada no trabalho. Esse mergulho no trabalho eu acho bastante interessante.
Há sempre uma combinação de materiais, de texturas na tua obra (como, por exemplo, as telas com asfalto). Como transferiste isso para as gravuras?
Essa questão dos materiais eu acho que vem até da prática da gravura. A gravura tem um fazer que normalmente os artistas costumam dizer que é a “cozinha da gravura”. Porque na gravura tem muitas técnicas diferentes: se você quer fazer um desenho mais de linha, se você quer fazer um desenho mais de mancha, sobreposição, transparência… Cada técnica tem um jeito diferente de fazer, tem vários vernizes, vários materiais de isolar. As diversas consistências dos materiais me interessaram muito e acho que foi até a partir daí que eu comecei a experimentar vários tipos de tinta, vários tipos de papel e um monte de materiais diferentes.
Por outro lado, eu acho que também sou de uma geração que já é pós várias outras gerações do mundo. Tem a Arte Povera na Itália que foi a geração que experimentou (e que, coincidentemente, a gente está tendo a exposição aqui na Fundação) que mais experimentou materiais diferentes. Depois teve o Joseph Beuys, que é mais ou menos da mesma geração da Arte Povera, depois teve a Mira Schendel… Eu sou de uma geração que vem após tudo isso, então é lógico que eu olhei isso e outras coisas e tudo me influenciou. Quer dizer, eu pintar com asfalto, não estou sendo tão diferente assim.
Eu acho que a minha geração já experimenta muito porque teve uma prática anterior e a gente não quer mais simplesmente pegar uma tinta e uma tela. Quando você quer criar uma linguagem sua, uma maneira de criar sua marca, sua representação de uma forma diferente, você está querendo experimentar outros materiais e acho que é um pouco daí que surgiu essa ideia de trabalhar com asfalto como tinta. Já deve fazer entre 20 e 30 anos que eu trabalho com asfalto de formas bem diferentes. Não só com asfalto, mas também com parafina e vários materiais.
Já tinhas ideias sobre que tipo de trabalho gostaria de desenvolver no Ateliê de Gravura da Fundação?
Deixei para fazer tudo aqui. Eu fui convidada, com data marcada, há pouco tempo. Me ligaram e falaram “olha, tem disponibilidade agora em outubro, você quer vir?”, e eu disse que queria. Eu não fiquei pensando, mesmo porque eu estava ligada a outro projeto e sabia um pouco como era a residência. Tenho vários amigos artistas que já tinham feito e me falaram que o trabalho com o Marcelo e com o Eduardo (coordenadores do Ateliê de Gravura) era muito legal.
Essa possibilidade de você não ter que criar um produto pronto para uma exposição, ou seja, ter uma vivência de uma semana em que você pode experimentar coisas, acho que sai alguma coisa mais bacana mesmo. Até porque eu nunca entro no ateliê com alguma ideia tão direcionada. Acho que o fazer é que vai dando o repertório para eu continuar o trabalho… O resultado desse fazer que me dá elementos para seguir a pesquisa.
De fato, eu não vim com nenhuma ideia formada. Tanto que, no primeiro dia, eu cheguei aqui e os meninos perguntaram o que eu queria e eu respondi: “ai, não sei” (risos). Aí eu comecei a brincar, usar de tudo, fazer monotipia até que, no segundo dia, comecei a fazer uma gravura com uma técnica tradicional, água-tinta, que são os tons diferentes quase como uma aquarela. Ela tem a ver com uma série de trabalhos meus chamada “Arrabaldes”, em que criei vários tons de manchas. Então, eu resolvi fazer uma gravura com essa técnica e tentar criar essas passagens de nuances de cor explorando as técnicas que existem para vedar o metal. Foi nesse sentido que o Marcelo e o Eduardo me ajudaram e a gente apanhou um pouquinho, mas faz parte do processo. Paralelamente a isso, eu fiz vários outros desenhos com monotipia e fiz ainda mais uma gravura com água-forte.
Estás satisfeita com o resultado?
Sim, estou bastante satisfeita com tudo. O lugar é muito especial, a energia de estar trabalhando com o material que foi de Iberê Camargo… Eu conheci Iberê, fiz um workshop com ele nos anos 1990, em São Paulo, durante uma semana. E ia jantar com ele e com a Dona Maria todos os dias, porque a Sonia Salzstein, que era a diretora do Centro Cultural São Paulo, chamava alguns dos artistas para jantar. Eu fui todas as noites e, para mim, foi uma vivência muito especial, muito bacana. Tenho um cartão escrito pelo Iberê… E, ao chegar aqui, me deparei com vários objetos que foram dele, isso não ficou guardado dentro de um museu, fechado. Acho legal ter essa energia dentro do ateliê. Tem uma caixa de esquentar placa que é linda, de ferro, tem ainda os pincéis, ponta-seca, vários materiais, então tem esse clima. Fora que o Marcelo e o Eduardo são pessoas muito especiais.
Que desdobramentos podem surgir na tua forma de trabalhar após essa experiência aqui na Fundação?
Nada é tão direto assim. Acho que, como qualquer prática, a gente acumula conhecimento. Nessa vivência, tem coisas que eu aprendi, tem coisas que eu me lembrei, que eu já não lembrava mais. A gravura é uma linguagem que eu não usava há muito tempo. E essa vivência muito forte. Eu fiquei realmente todos os dias no ateliê até bem tarde, então trabalhei bastante, e isso me deu muita vontade de continuar trabalhando com gravura. Eu tenho essa possibilidade em São Paulo, nos ateliês dos meus amigos. Acho que é um pouco isso… Depois, pensar o resultado formal do trabalho, as coisas que eu gostei, que eu não gostei, aos poucos você vai usando desse repertório.
Para ver as obras da artista na coleção, clique aqui.