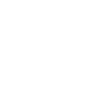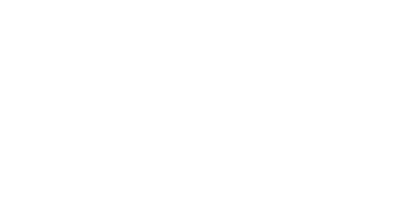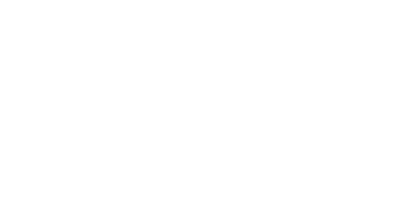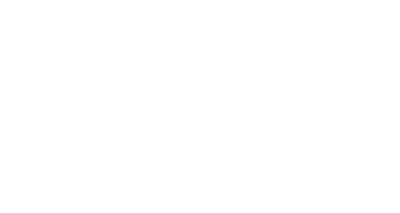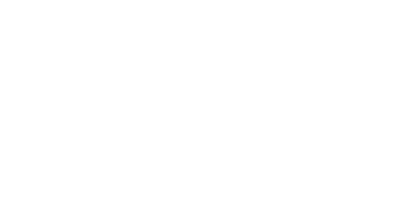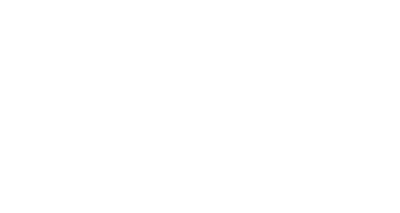Entrevista com José Resende
O escultor paulista José Resende esteve em Porto Alegre, entre os dias 23 e 27 de agosto de 2004, participando do Projeto “Artista Convidado” da Fundação Iberê Camargo.
Leia abaixo, entrevista exclusiva com o artista, à época de sua participação no Programa.
Como foi participar do Rex Time naquele momento da sua carreira?
A Rex surge bem no início, foi uma espécie de relação de cumprimento ou de finalização de uma atividade didática que nós tínhamos com o Wesley Duke Lee. Acho que coroa e frisa bem, o que foi mais importante dessa relação de formação com o Wesley. Muito mais do que simplesmente um encanto que ele abriu pelo interesse pela arte e menos, talvez, a capacidade de nos fazer fazer pelo fazer, foi exatamente a de colocar o embate que é fazer arte, no sentido de defendê-la como manifestação que tem como bojo a necessidade de ser culturalmente influente. Ou seja, que não seria só fazer, mas seria um engajamento profissional, que vai além do próprio fazer, mas de como esse fazer interfere, como é que esse fazer se faz transformador no momento que ele aparece no meio cultural. Então, a Rex foi quase um curso de pós-graduação disso mais concretamente, feito que éramos muito jovens e fomos um pouco englobados nesse projeto, que era do Wesley, do Geraldo de Barros e do Nélson Leirner, de atividade profissional mais constituída, e nós éramos os calouros ali que estavam entrando nesse processo.
Falando nesse engajamento cultural, você esteve participando em revistas, como a Malasartes, a Número. Como foi se dando essa reflexão sobre o trabalho na sua vida e como é esta relação com as revistas, a importância delas?
Em meados de 1970 – por um movimento que surgiu um pouco mais no Rio do que em São Paulo, porque em São Paulo, como editores, éramos eu e o Baravelli, de nove, ou seja, mais sete eram do Rio – artistas e críticos que se mobilizaram no sentido de tomar uma ofensiva para que se rediscutisse exatamente essa questão, que talvez estivesse lá atrás apontada na Rex, da necessidade de recolocar a discussão de arte no campo cultural de uma forma atuante de novo. Então, não era mais uma escola, nós já tínhamos tentado na Escola Brasil, que foi um centro de experimentação artística, que funcionou de 1970 a 1974. A revista foi em 1976, logo posterior. São movimentos que eu tive a sorte de se engatilharem no meu começo de trabalho. O que é um certo privilégio, porque você está nessa atividade de arte, que em geral se processa de forma muito isolada, você está trabalhando muito longe, consigo mesmo, sempre. E, ao contrário, esses projetos trouxeram a chance de ter nisso um rebatimento, uma conversa e uma disposição conjunta de atuação, o que sempre foi uma coisa boa, porque se engatilha mesmo: da Rex, passando pela Escola Brasil, da Escola Brasil teve a Malasartes, da Malasartes teve a parte do Fogo e aí acabou. Então, as coisas mudaram muito na década seguinte e eu acho que essa característica se deve a aquele momento, que foi muito bom. Eu só acrescentaria em relação a essas revistas, que em geral isso é um pouco não relacionado, mas o fato de fazer uma revista por uma iniciativa completamente artesanal e, vamos dizer, amadora era uma coisa vigente. A gente estava no bojo de uma série de publicações, que ali também surgiram, que entre elas, tem uma que não é especificamente de artes plásticas, que é o Beijo, por exemplo, mas que arregimentou uma série de discussões sobre a questão da imprensa. O Ronaldo Brito, que fez parte da Malasartes, tinha a Opinião, que vinha de um processo de transformação muito grande. Enfim, de fato, só pela ação já dá para ver que houve a possibilidade desse engajamento e uma intenção e, de fato, efetivação dessa provocação num campo cultural mais amplo através da discussão que em artes plásticas estava se querendo colocar.
Como foi a escolha pela escultura?
Não foi uma escolha, isso foi uma contingência que eu me encontrei nela, quando eu percebi já tinha acontecido. Não foi uma escolha, posso te dizer conscientemente.
E os materiais. Você trabalha com diversos materiais.
Eu acho que na medida que o trabalho vai se definindo, ele acaba, vamos dizer, repetindo procedimentos que, em geral, são retirar certas coisas, certos materiais que são muito presentes na vida cotidiana de qualquer um e que ganham de certa forma algum sentido, na medida em que eles são associados e por uma ação relacionados, às vezes, por gestos até muito claros, evidentes de como aquilo é feito, dão esse momento de transformação, de surpresa, que é onde incide o trabalho, que acho que é aí que ele acontece. Então, se for pensar na escultura, eu acho que é lógico que eu venho de uma relação que começa na coisa construtiva, é uma tradição que não tem uma relação tão anterior com a coisa tradicional da transformação da matéria em forma, mas algo que vem, acredito, meio próxima da formação de arquiteto e de como eu tive acesso a mexer com essa coisa visual e de ela entrar em mim como uma provocação, que foi tardia – foi na faculdade de arquitetura que tive contato com Wesley. Então, a própria concepção de projeto ela é muito básica dentro do meu trabalho. É o pensamento, o projeto que gera o trabalho.
Você planeja, desenha, como é que você faz?
Em geral sai de uma idéia que eu tenha. Inicialmente surge num diálogo com o desenho, mas é um desenho experimental, meus desenhos, que eu me lembre, nunca foram expostos. Está aí a dificuldade de fazer gravura agora.
Como é que você trabalha com a inserção da escultura no espaço urbano? Elas são pensadas para isso, elas têm relação com a arquitetura da cidade?
Essa relação está para acontecer ainda. Eu acho que ela acaba no trabalho em função dessas associações que são bastante relativas a uma certa relação com a cidade, mas que não é necessariamente pública, elas se dão no interior do trabalho. Então, essa vocação é um pouco que o espaço público é sempre meio um germe que surgiu lá dentro e não foi uma coisa que é uma intenção externa ao trabalho, acho que foi natural no desenvolvimento dele. Mas, eu acho que o fato de pôr um trabalho num lugar público não o torna necessariamente público. Quer dizer, eu acho que é necessária uma adesão pública a um trabalho, e para isso são precisos vários ingredientes, um deles é o da cidadania, ou seja, é preciso que um trabalho público se torne de fato um bem público, que ele seja incorporado. E isso, naturalmente, no país é uma dificuldade ainda muito grande, na medida em que nem as instituições culturais conseguem muitas vezes essa adesão pública, ou seja, um museu, por exemplo, ser de fato considerado, pela cidadania, um bem público, de propriedade tão explícita da população, que considera ali como algo que ela tenha acesso e que de alguma maneira ela usufrua nesse sentido. Então, uma escultura isolada, colocada no meio da cidade, às vezes é um trambolho, não é coisa nenhuma, não é pública coisa nenhuma. Ela se torna pública, às vezes, pelo seu oposto, por ser um estrupício, em vez de ser uma resposta, vamos dizer, provocativa. E, eu acho que essa possibilidade é em aberto. Mas tive chances, em algumas oportunidades. No Rio, por exemplo, foi colocada uma peça que acabou ganhando até um apelido, que foi dado lá e acabou se chamando Negona (refere-se a Vênus, 1992). E, que tem hoje uma certa naturalidade de ser observada, já entrou na visualidade da cidade, o que eu acho que é por enquanto um mero acaso. Não acho que seja nenhum caminho modelar a ser seguido. É curioso que, enfim, por várias razões, você poderia imaginar que a cidadania se manifestasse, mas curiosamente no Brasil, ali, eu acho que a forma com que ela foi incorporada foi a do afeto. A peça nunca foi pichada, ela é tratada de certa forma com carinho, essa coisa do humor da Negona, que ela balança, então ela samba. Enfim, tem lá todo um repertório de coisas que está se agregando e que é lento. Acho que esse processo não está concluído. Então, eu acho que isso é um indicador que esta intromissão no espaço público – que é tanto da arte quanto da arquitetura, como da música – são conquistas de sedimentação. No Brasil, a gente tem um pouco essa coisa de forma ainda meio experimental, ou seja, ela não está pronta e eu acho que ela vai se dando em etapas, que não são concatenadas, vai por pulos. Então, acho que sempre é estimulante e vamos dizer desafiador estar pensando nisso e estar envolvido com isso.
E, agora, vamos para a gravura. Você já tinha feito gravura alguma vez, como está sendo a experiência aqui?
A Fundação Iberê Camargo me desafia pela segunda vez a uma tarefa, o que eu acho que é uma grande qualidade da Fundação. Não por mim, mas acho que o fato de me convidarem é um indício que é não se bastar em guardar e de certa forma só se apropriar daquilo que mais obviamente seria próximo da preservação da obra do Iberê. Eu acho que é até uma atenção a uma característica do próprio Iberê, que apesar de ter um trabalho tão visceral, o que se levaria a pensar dele preocupado só consigo mesmo, ao contrário, ele sempre foi um intelectual que na vida cultural do Brasil foi influente, foi voltada para fora, formando pessoas. Então, eu acho que seria uma injustiça se uma instituição não pensasse esse vigor, que como instituição ela também não fosse assim. Então, eu acho que me chamar aqui para um desafio, que é fazer uma coisa que é muito fora do meu métier, não só pelo processo, porque como eu falei são informações meio decorrentes de escolhas de material, essas coisas do ofício são estranhas ao meu trabalho, em princípio. E a gravura é, por excelência, o lugar em que essa coisa do ofício é preservada, é cultuada, enfim. E, eu sempre tive uma posição até muito incômoda. Há um incômodo em aceitar isso aqui, porque eu sempre fui muito crítico a esta posição da gravura, como uma certa eleição em função da manutenção e da valorização da atividade de arte calcada na excelência de ela sair de uma competência de ofício. E eu acho que não é bem isso que a caracteriza mais. Então, esse convite é um reflexo dessa disposição da Fundação de não resolver o cômodo, mas ao contrário de criar um problema, criar uma discussão, uma dificuldade e não uma facilidade.
Mas como foi o processo? Você mexeu na matriz, ela foi furada, recortada… Você trabalhou com o material mesmo.
A placa era a coisa mais íntima para mim. Então, quase que a transposição dessa imagem para o papel seria como uma digital, apenas a memória de uma ação que tinha sido feita na placa. Eu tenho aqui a ajuda do Eduardo e do Marcelo, que foram muito atenciosos. Mas o Eduardo foi mais feroz, porque ao cavar a primeira gravura, que eu fiz o proselitismo o dia inteiro de que eu não ia fazer uma gravura, que eu só ia atacar a placa, furá-la. Quando acabou, ele disse: “mas está com uma cara de gravura…” Enfim, então, eu fiz uma batalha. Não foi nem uma, nem duas, eu estou na terceira, em que a gente está tentando demonstrar um pouco estas dificuldades e abrir esta discussão. Acho que a tiragem não será de uma obra terminada, mas é evidente que elas nessa sequência são essa batalha e acho que é mais essa batalha que está sendo registrada aqui do que um produto final.
Para ver as obras do artista na coleção, clique aqui.