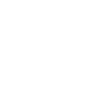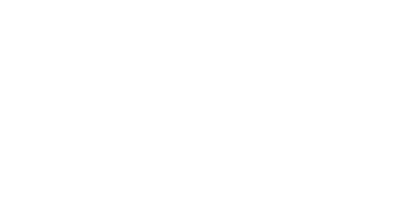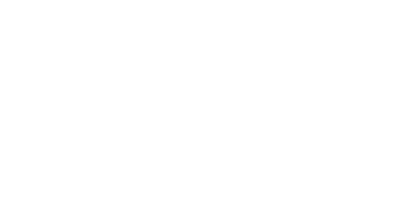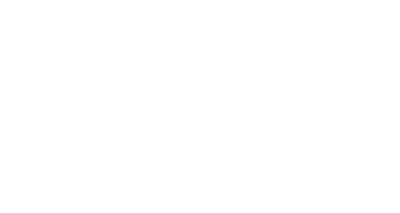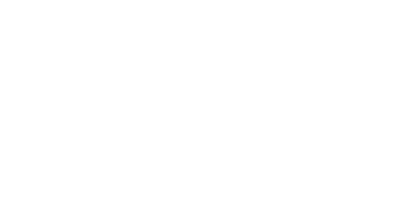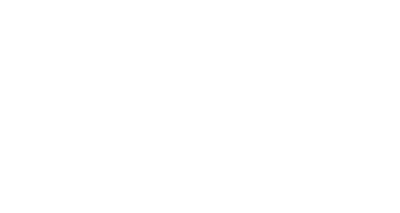Entrevista com Iole de Freitas

No início de agosto de 2008, Iole de Freitas foi a artista que deu início ao Programa Átrio, da Fundação Iberê Camargo, no qual artistas são recebidos para desenvolver projetos especialmente para o espaço, com o objetivo de ampliar o campo de atuação da Fundação e difundir a arte contemporânea.
Iole é escultora e gravadora e está entre os principais nomes da arte contemporânea brasileira na atualidade. A artista tem entre os seus trabalhos mais recentes a instalação criada para o documenta 12, em Kassel, em 2007. Iole já expôs em espaços como o Museu Nacional de Belas Artes, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Gabinete de Arte Raquel Arnaud, o Museu Vale do Rio Doce, entre outros.
Leia abaixo entrevista com a artista e conheça mais o seu trabalho.
O início da sua carreira artística foi nos anos 70 na Europa. Como foi esse início e quais as ressonâncias dele na sua produção atual?
Eu estudei na ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial) no Rio e comecei a trabalhar com desenho industrial na Olivetti. Eu fazia programação visual, imagem empresarial e um pouco de desenho de produto. Depois, ampliei a minha atuação, com projetos para uma fábrica de móveis e outra de cerâmica, de modo que fui entrando em contato com esse universo, que já me interessava. Eu sempre tive o maior interesse por estética e linguagem visual e comecei a construir uma linguagem própria. Isso foi feito através de filmes experimentais em Super-8 e em 16mm. Os primeiros filmes se chamaram Elements e Light Works e lidavam exatamente com as questões que hoje o trabalho continua a tratar – a luz, a luminosidade, a transparência, a translucidez. Exit, que foi o terceiro filme, trabalha com o deslocamento do corpo no espaço e com determinados elementos que ainda existem hoje: grandes planos que eram realizados com tecido, depois se tornaram tecidos plásticos, tecidos metálicos, e finalmente a chapa de policarbonato. E, também tinha o vidro, que desde o início eu usei. Eu acho que se o artista conseguir com 40-50 anos de produção e reflexão construir uma certa coerência de linguagem, isso vai acontecer com alguns elementos estéticos, com algumas pequenas questões, porque o trabalho sempre é feito muito mais de “não” do que de “sim”.
O deslocamento e a velocidade são também elementos que sempre estiveram presentes. Nos anos 70, a velocidade e o movimento corriam por conta do deslocamento do meu próprio corpo no espaço e da velocidade da gravação da película (24 fotogramas por segundo). Agora o movimento é do corpo do espectador. Já a velocidade vai por conta da própria obra, das chapas, das linhas que são realizadas em aço inox, em metal.
Outra coisa que aparecia nos anos 1970 constantemente eram painéis de vidro, vidraças, reflexos em fragmentos de vidro, espelhos. Eu também trabalhava com um acetato, que tinha uma película metálica em cima e era usada em design de convites e cartazes. Esse acetato produzia uma deformação na imagem refletida. Agora, eu vejo a mesma deformação acontecer com as chapas de policarbonato. Para cada filme que eu realizava, eu organizava um ambiente, com esses elementos metálicos, facas, coisas que eu pegava no ateliê, pedaços de vidro, pedaços de acrílico. Então, a questão da imagem refletida foi uma constante dentro dos trabalhos dos anos 70.
Eu realizava performances dentro de um circuito que se organizava de tal maneira, que eu realizava o deslocamento do meu corpo e operava a câmera. Então, a relação entre o olho da câmera, o olho do fotógrafo e o olho do objeto a ser fotografado era o mesmo. Dessa forma, criava-se um entrelaçamento muito denso, bastante intenso, difícil e o trabalho interessou às galerias. Havia um grupo de artistas que estava trabalhando com isso, como a Catarina Dias, a Marina Abramovic, e começando a ter inserção. E, uma certa leitura desta produção foi chamada de Body Art. Esses trabalhos foram realizados até 76 e os desdobramentos até 78. Aí, eu voltei para o Brasil e continuei os trabalhos com foto e pequenos objetos.
Improvisando no ateliê para criar essa ambiência e ter a situação do deslocamento do meu próprio corpo em relação a estes painéis de tecido, a mediação da foto e do filme foi saindo do processo de construção do trabalho, o que resultou nas situações plásticas, como esculturas, objetos – ficaram os elementos espaciais que eu construía nos espaços. A partir desta outra direção, surgiram trabalhos já relacionados com arquitetura e com o espaço. Mas, a origem de todo o processo foi essa.
Um aspecto que é muito presente na sua obra é a leveza. Pelo que você colocou, a leveza já estava presente nos vídeos.
Eu acho que em alguns estava, sim, principalmente nos que trabalhavam com a luz, como o Light Work. No Elements também, porque trabalhava com água e películas transparentes flutuando. Toda essa relação de fluidez, de leveza, já existia desde o início. A própria presença destes elementos que, ora são o policarbonato, mas que já foram as telas metálicas ou mesmo as telas de nylon, de fato também lida com esta relação. Eu trabalho sempre com essa questão da leveza, mas com uma tensão muito grande e com uma intensidade volumétrica muito grande. Então, fica um contraponto entre as duas coisas.
Quais foram os desafios que você encontrou na arquitetura da Fundação Iberê Camargo para desenvolver o seu projeto?
Eu já adorava os projetos do Siza e, quando eu soube que o daqui era dele, todas as vezes que eu vinha a Porto Alegre eu pedia para vê-lo. Vim umas quatro vezes durante todo o período da construção. E a última foi muito interessante, porque foi exatamente na manhã que me telefonaram para saber se eu estava em Porto Alegre para fazer o convite.
Naquele momento, eu vi o prédio já bastante finalizado, mas confesso que não prestei a menor atenção no átrio em si, porque tudo nesse prédio chama a atenção. Eu pensava na luminosidade, no deslocamento pelas rampas, não fiquei olhando para altura do átrio, não fiquei medindo com o olhar. Eu só senti o espaço e essa questão do deslocamento, que me interessa sobremaneira.
Quando eu fui convidada, eu já tinha uma certa familiaridade e uma adesão ao espaço. Ele me interessa pela natureza da arquitetura, pela seriedade da instituição, pela comissão curadora que tem pessoas como Sônia Salzstein, Paulo Sérgio e tantos outros, que são parceiros de discussão. Então, eu pensei “vai ser um ótimo desafio”, porque eu sempre acho que vale a pena enfrentar os desafios tensionando espaços arquitetônicos que sejam de alta qualidade.
Aqui tinha uma questão que me preocupava em relação à linguagem do trabalho: eu não queria que o trabalho fosse fisicamente pendurado do teto, nem que parecesse um móbile suave flutuando. Não queria porque não é da aptidão do trabalho. O trabalho se realiza por uma profunda tensão com a arquitetura com a qual ele interage, onde ele se inclui, e por uma quase dissolvência mental de determinados parâmetros de arquitetura. A grande questão era fazer um trabalho que pudesse ampliar, potencializar – eu acho que a cada trabalho se tem que dar um salto, porque é uma complexidade mental, psíquica, sensível, financeira e de procedimentos. Eu não imagino desperdiçar nem repetir algo já feito.
Olhando o espaço, tem um plano curvado denso, opaco, com rasgos de luz das janelas, e as rampas, onde se circula fazendo um percurso em diagonal em relação ao chão e que liga, num fluxo só, os andares, mas fazendo com que você não percorra internamente, como o Guggenheim de Nova York. Essa situação foi extremamente especial para mim, porque eu entendi que junto a esta parede branca existiam duas tensões – existia este vazar do espaço para dentro das galerias, porque o espaço é aberto, e a invasão do espaço da galeria dentro do átrio–; existiam as linhas retas que determinavam isto em oposição à curvatura da parede da rampa; existia a inclinação das rampas; e pronto. Então, se eu respeitasse os parâmetros que o trabalho propõe, que é tensionar aquele espaço na relação que se estabelece com a arquitetura, e se eu entendesse essa confluência de planos curvos e linhas retas, eu estaria trabalhando com o vocabulário que eu domino e não teria risco algum de o trabalho ficar parecendo flutuante no espaço. E aí eu defini que as linhas seriam retas, porque em todas as outras instalações desde 1999, onde havia linhas e planos, as linhas eram curvas e retorcidas. Dessa maneira, eu retomo os anos 70, quando a linha era reta, por causa da natureza do espaço que me foi disponibilizado. Daí para frente, eu determinei que a placa teria que ser transparente.
Por que a placa é transparente?
Primeiramente, pela natureza da arquitetura. Em seguida, porque os valores estéticos caminham ligados, e, imediatamente, porque necessária se fazia a transparência no espaço para que a colocação do Siza do olhar vazar e chegar à pintura permanecesse. Mas com esta interferência – porque o trabalho tem que ter presença – que seria a torção dada ao plano transparente que, por ser refletor, distorce de acordo com a torção. Ou seja, o plano retorcido e com superfície refletora interfere e cria uma presença, que eu só me dei conta da intensidade aqui. Eu fui projetando, calculei bastante próximo, mas só percebi a intensidade destes volumes, como eu chamo as placas de policarbonato no espaço, quando eu, de fato, as realizei. Isto vem sendo algo recorrente no meu trabalho, ele sempre lida com a incidência da luz. Aqui, você tem a luz entrando e é ela que dá volumetria. A potência da volumetria dessas distorções do policarbonato no espaço, tanto pela relação que se estabelece no espaço real quanto pela incidência da luz, fez com que eu tirasse dois volumes que eu tinha planejado.
Essa volumetria acaba criando um outro espaço…
É o espaço do trabalho.
Você não só está interferindo no espaço, mas ao mesmo tempo estás criando espaços.
Exatamente. Isso é superimportante porque se usa esse termo “intervenção”, como se o artista fosse lá rabiscar no espaço. Mas essa é a intervenção no espaço: a constituição de um outro espaço a partir daquele que já existe, dado pelo projeto arquitetônico.
No primeiro dia em que eu conversei contigo, estavam fotografando a montagem e você disse: “Fotografam, fotografam, fotografam o processo, mas o processo não interessa…”. Eu queria saber um pouco do seu processo de criação em comparação com o processo da montagem. O que é essencial para você nisso tudo?
É a mesma coisa, por exemplo, se você ouve uma sinfonia, você quer ouvi-la. Ela tem que ser brilhantemente executada. Se você ouve Beethoven tocado pelo Glenn Gould, ele tem uma sonoridade, se você ouve uma sonata tocada por um excelente pianista, tem outra sonoridade. Então, é evidente que, constituída a linguagem, nós teremos este caráter que é o da feitura. Eu acho que o trabalho tem que ser extremamente bem executado. Porém, o que importa é quando você ouve a sinfonia, quando você vê o trabalho, quando você tem fenomenologicamente o impacto daquela realidade sobre você. Para isto é que o artista cria. Não é para ficar catalogando procedimento, não é pra ficar catalogando material. Isto é a infra-estrutura. É a curiosidade banal de todos nós. Eu também tenho, mas é banal. Você fica ancorado nisso – é isto que me incomoda – e não chega aonde o trabalho chega e a razão de ser de todo aquele processo. Então, quando a gente fica vendo o making of de um filme é curioso, mas não sai do curioso e vicia, deturpa, deforma a percepção. Por isto que eu não gosto.
Para ver as obras da artista na coleção, clique aqui.
Imagem: Iole de Freitas trabalhando no Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo. Foto © Acervo Documental da Fundação Iberê Camargo